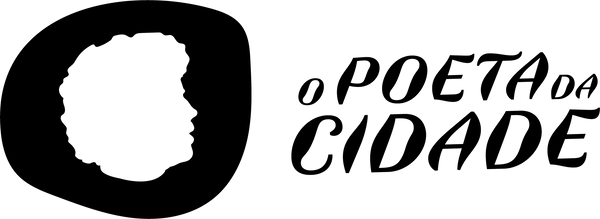Literatura na Ciência - Farmacopoesia
Share
Hoje foi-me incumbida a árdua tarefa de tentar aliar a ciência e a arte, a ciência e a literatura e a importância desta última naquilo que é uma visão holística não só do doente, mas da relação do doente com a sua doença e do doente com o profissional de saúde.
É sempre duro tentar encontrar um fio condutor para algo que dá mais do que pano para mangas, e por pano entenda-se teses e por mangas entenda-se de mestrados ou doutoramentos.
Por essa razão, decidi trazer-vos alguns exemplos que considero serem paradigmáticos de pessoas, autores, escritores, artistas que aliaram a sua actividade profissional, ora médicos, ora físicos, ora investigadores, à literatura e à arte de contar histórias ou escrever poesia.
E porque a literatura precisa sempre de uma contextualização ou de uma articulação, o primeiro texto que vos trago é exatamente uma tentativa nesse sentido: uma tentativa de articular o que é a literatura e o que é da literatura. É uma pequena entrada no Livro do Desassossego por Bernardo Soares.
“A literatura, que é a arte casada com o pensamento, e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. Creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Os críticos da casa pequena soem apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer, afinal, dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil, e o dia bom, ele mesmo, passa. Temos, pois, que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. Tudo é o que somos, e tudo será, para os que nos seguirem na diversidade do tempo, conforme nós intensamente o houvermos imaginado, isto é, o houvermos, com a imaginação metida no corpo, verdadeiramente sido. Não creio que a história seja mais, em seu grande panorama desbotado, que um decurso de interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo. Tenho neste momento tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer, que me canso de repente, e decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer me dê sono, e eu faça festas com os olhos fechados, como a um gato, a tudo quanto poderia ter dito.”
Existe um artigo excepcional da Cecília Galvão, investigadora do departamento de educação na universidade de Lisboa intitulado “A Ciência na Literatura e a Literatura na Ciência”, em que a mesma tenta, exatamente, estabelecer não só pontos comuns entre ambos os conceitos, mas, e talvez mais importante para aquilo a que aqui me proponho, colmatar esta diferença de linguagens que muitas vezes tornam o diálogo entre a Ciência e a Literatura quase antagónico. Tal acontece por várias razões, algumas já as elenquei em ensaios anteriores ou em conversas com amigos, sendo a principal a forma como o modelo de ensino está delineado: todos nós, ou quase todos aqueles que estão aqui hoje presentes, em algum dado momento na sua vida tiveram de fazer uma escolha. Foi-vos incumbida a escolha. A chamada “tudo ou nada”. Uma escolha proposta a um jovem que não pode nem conduzir, nem votar, nem beber, nem fumar. Talvez a escolha mais importante da vida de qualquer um. À passagem do 9.º ano para o décimo, foi-vos dado a escolher 1 de 4 de ensino secundário. A grande maior parte de vós escolheu as ciências em detrimento das humanidades e romperam, quase de forma imposta, com a relação entre a literatura e o mundo para se dedicarem apenas ao testemunho concreto e exato que a ciência nos apresenta. Esta é a única explicação que encontro para a total inabilidade dos cursos superiores científicos não se dignificarem a prestar pelo menos uma cadeira de literatura ao longo dos anos do curso.
António Damásio, indiscutivelmente um dos mais renomeados neurocientistas portugueses defendeu, em 2006, na Conferência Mundial de Educação Artística promovida pela UNESCO, que "um currículo escolar que integra as artes e as humanidades é imprescindível à formação de bons cidadãos… A ciência e a matemática são muito importantes, mas a arte e as humanidades são imprescindíveis à imaginação e ao pensamento intuitivo que estão por trás do que é novo. As capacidades cognitivas não bastam.”
O psicólogo Ken Robinson defendeu, na mesma Conferência, igualmente a complementaridade entre a ciência e a arte, dizendo que “os grandes cientistas são incrivelmente criativos e intuitivos. "O processo científico valida, demonstra. É a imaginação que cria”.
Ambos estes testemunhos remontam-me para o filme “Dead Poet Society”, escrito por Tom Schulman e realizado pelo Peter Weir. A personagem do professor Jon Keating, eternizada pelo extraordinário Robin Williams, fora escrita, conta Schulman, inspirada num professor que tivera no colégio Montgomery Bell Academy. A certa altura no filme, Jon Keating diz aos alunos
“Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana, e a raça humana está cheia de paixão. Medicina, Direito, Negócios, Engenharia... são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor... é para isso que ficamos vivos. Para citar Whitman:
"OH eu, oh vida
das perguntas sempre iguais
Dos intermináveis comboios dos descrentes
das cidades a abarrotar de idiotas.
O que há de bom no meio disto, oh eu, oh vida?
Resposta:
Estás aqui
A vida existe e a identidade,
A poderosa peça continua
e podes contribuir com um verso.”
São inúmeros os testemunhos de como a complementaridade entre a imaginação artística e o saber científico promovem pontes de entendimento com o resto as pessoas que mais precisam de ambos, em detrimento do modelo impositivo.
Carl Sagan, um dos mais conceituados cientistas astrofísicos, reconhecido mundialmente pela sua capacidade admirável de ilustrar as suas ideias com a força cativante da palavra, escreveu assim, no seu livro – Um mundo Infestado de Demónios: “Havia a memorização maquinal da tabela periódica dos elementos, alavancas e planos inclinados, a fotossíntese das plantas verdes e a diferença entre a antracite e a hulha (...) Nas aulas laboratoriais do liceu havia uma resposta que devíamos dar e se não o conseguíamos tínhamos nota negativa. Não havia estímulo para nos debruçarmos sobre os nossos interesses, palpites ou erros conceptuais. No final dos manuais havia material que se podia considerar interessante, mas o ano acabava sempre antes de lá chegarmos. Encontravam-se livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. As contas de dividir eram ensinadas como um conjunto de regras de um livro de cozinha (...) No liceu a extracção de raízes quadradas era-nos apresentada com veneração, como se fosse um método sagrado. Tudo o que tínhamos a fazer era recordar o que nos tinham mandado fazer. Dá a resposta certa e não te rales se não percebes o que estás a fazer.”
Existe ainda uma outra falha, facilmente desconstruída pela literatura e que muitas vezes escapa, porque tem de escapar até certo ponto, ao domínio da ciência e que é o da emoção perante a humanidade do outro. Uma das maiores dificuldades dos textos científicos, e eu que estudo Linguística, que mais não é do que a cientificidade da palavra, também o sei, é a humanização do mesmo. Esta problemática ganha especial evidência quando nos apercebemos que na minha área a matéria-prima é a palavra, mas na Medicina, por exemplo, a matéria-prima é muitas vezes, se não sempre, a pessoa. A Humanidade do outro. Dedilham-se sentimentos como se fossem placas de petri, como se a essência humana pudesse ser medida por um conta-gotas, como se a existência estivesse vinculada aos monitores de sinais vitais.
António Gedeão, professor, físico, investigador e, talvez mais importante, poeta, é um bom exemplo de como mestrear ambas as linguagens: a científica e a literária.
Um dos seus mais bonitos poemas e um dos mais bonitos poemas alguma vez escritos em português, que consegue encapsular, ao mesmo tempo, uma intrincada teoria social inicialmente fomentada por Martin Luther King, apelidada de colorblindness, enquanto brinca com a Física e com a Poesia, chama-se Lágrima de Preta.
Encontrei uma preta
que estava a chorar,
pedi-lhe uma lágrima
para a analisar
Recolhi a lágrima
com todo o cuidado
num tubo de ensaio
bem esterilizado.
Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de gota
muito transparente.
Mandei vir os ácidos,
as bases e os sais,
as drogas usadas
em casos que tais.
Ensaiei a frio,
experimentei ao lume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:
Nem sinais de negro,
nem vestígios de ódio.
Água (quase tudo)
e cloreto de sódio
No ensaio sobre a cegueira, não sendo este um livro necessariamente sobre ciência per si, Saramago parte de uma premissa concreta: o mundo havia sido acometido por uma doença fictícia: uma cegueira branca.
A certa altura, já para o final do livro, um dos cegos pergunta a um médico: “por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
O ensaio sobre a cegueira pode aqui servir como uma metáfora. Num mundo em que, para todos os efeitos, pessoas normais, afastadas do jargão científico, têm dificuldade em ver humanidade nos escritos científicos, acabam também por desenvolver uma profunda dificuldade em ver a humanidade nas próprias pessoas, nos profissionais, que dão a cara por esses mesmos escritos.
Da mesma forma que no ensaio sobre a cegueira, a mulher que escapa da cegueira branca é tida como uma profeta, encarregue de levar a humanidade a bom porto e a um futuro mais risonho, podemos estabelecer também a correlação com o profissional de saúde que, embebido da humanidade que a literatura lhe dá, consegue edificar uma ponte de entendimento muito mais próximo da vida do outro, do doente, oferecendo-lhe o conforto de alma que só a literatura consegue.
Uma das pessoas, atrevo-me a dizer, mais exímias na constatação da humanidade do outro em justaposição com o maquinismo da sua profissão é o António Lobo Antunes, médico, psiquiatra, e o prémio Nobel da Literatura Portuguesa a quem nunca será dado, António Lobo Antunes é talvez o único cientista de dois domínios: cientista do Homem e cientista da Palavra.
O texto que vos lerei a seguir foi uma pequena crónica que ele escreveu para a Revista Visão.
António Lobo Antunes – Juro que não vou esquecer.
"Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento de radioterapia. Sentada numa das cadeiras de plástico, o homem que a acompanha (o pai?) coloca-lhe uma almofada na nuca para ela encostar a cabeça à parede e assim fica, magra, imóvel, calada, com os olhos a gritarem o que ninguém ouve. O homem tira o lenço do bolso, passa-lho devagarinho na cara e os seus olhos gritam também: na sala onde tanta gente aguarda lá fora, algumas vindas de longe, de terras do Alentejo quase na fronteira, desembarcam pessoas de maca, um senhor idoso de fato completo, botão do colarinho abotoado, sem gravata, a mesma nódoa sempre na manga (a nódoa grita) caminhando devagarinho para o balcão numa dignidade de príncipe.
É pobre, vê-se que é pobre, não existe um único osso que não lhe fure a pele, entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já, tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam, a mão esquelética consegue puxar da algibeira o cartãozinho onde lhe marcam as sessões.
Mulheres com lenços a cobrirem a ausência de cabelo, outras de perucas patéticas que não ligam com as feições nem aderem ao crânio, lhes flutuam em torno. E a imensa solidão de todos eles. À entrada do corredor, no espaço entre duas portas, uma africana de óculos chora sem ruído, metendo os polegares por baixo das lentes a secar as pálpebras. Chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Um sujeito de pé com um saco de plástico. Um outro a arrastar uma das pernas. A chuva incessante contra as janelas enormes. Plantas em vasos. Revistas que as pessoas não leem, e eu, cheio de vergonha de ser eu, a pensar faltam-me duas sessões, eles morrem e eu fico vivo, graças a Deus sofri de uma coisa sem importância, estou aqui para um tratamento preventivo, dizem-me que me curei, fico vivo, daqui a pouco tudo isto não passou de um pesadelo, uma irrealidade, fico vivo, dentro de mim estas pessoas a doerem-me tanto, fico vivo como, a rapariga de cabeça encostada à parede não vê ninguém, os outros (nós) somos transparentes para ela, toda no interior do seu tormento, o homem poisa-lhe os dedos e ela não sente os dedos, fico vivo de que maneira, como, mudei tanto nestes últimos meses, os meus companheiros dão-me vontade de ajoelhar, não os mereço da mesma forma que eles não merecem isto, que estúpido perguntar - Porquê ? que estúpido indignar-me, zango-me com Deus, comigo, com a vida que tive, como pude ser tão desatento, tão arrogante, tão parvo, como pude queixar-me, gostava de ter os joelhos enormes de modo que coubessem no meu colo em vez das cadeiras de plástico (não são de plástico, outra coisa qualquer, mais confortável, que não tenho tempo agora de pensar no que é) isto que escrevo sai de mim como um vómito, tão depressa que a esferográfica não acompanha, perco imensas palavras, frases inteiras, emoções que me fogem, isto que escrevo não chega aos calcanhares do senhor idoso de fato completo (aos quadradinhos, já gasto, já bom para deitar fora) botão de colarinho abotoado, sem gravata e no entanto a gravata está lá, a gravata está lá, o que interessa a nódoa da manga (a nódoa grita) o que interessa que caminhe devagar para o balcão mal podendo consigo, doem-me os dedos da força que faço para escrever, não existe um único osso que não lhe fure a pele, entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já, tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam e me observa por instantes, diga - António senhor, por favor diga - António chamo-me António, não tem importância nenhuma mas chamo-me António e não posso fazer nada por si, não posso fazer nada por ninguém, chamo-me António e não lhe chego aos calcanhares, sou mais pobre que você, falta-me a sua força e coragem, pegue-me antes você ao colo e garanta-me que não morre, não pode morrer, no caso de você morrer eu No caso de você e da rapariga da almofada morrerem vou ter vergonha de estar vivo.”
Relembro-vos o que escreveu Bernardo Soares: “creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror.”
Espero que não encarem isto como uma obrigação: de que têm de ser todos grandes poetas ou romancistas, não, espero apenas que isto vos tenha atraído o olhar para a importância do fio narrativo na relação com e para o doente, porque “O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo.”
Quando Miguel Torga finaliza a sua licenciatura em Medicina, em 1941, ele escreve uma pequena nota num dos seus diários a dizer:
"Médico. Conforme a tradição, mal o bedel disse que sim, que os lentes consentiam que eu receitasse clisteres à humanidade, conhecidos e desconhecidos rasgaram-me da cabeça aos pés. Só deixaram a capa. E aí vim eu pelas ruas fora o mais chegado possível à minha própria realidade: um homem nu, envolto em três metros de negrura, varado de lado a lado por um terror fundo que não diz donde vem nem para onde vai."
É sempre duro tentar encontrar um fio condutor para algo que dá mais do que pano para mangas, e por pano entenda-se teses e por mangas entenda-se de mestrados ou doutoramentos.
Por essa razão, decidi trazer-vos alguns exemplos que considero serem paradigmáticos de pessoas, autores, escritores, artistas que aliaram a sua actividade profissional, ora médicos, ora físicos, ora investigadores, à literatura e à arte de contar histórias ou escrever poesia.
E porque a literatura precisa sempre de uma contextualização ou de uma articulação, o primeiro texto que vos trago é exatamente uma tentativa nesse sentido: uma tentativa de articular o que é a literatura e o que é da literatura. É uma pequena entrada no Livro do Desassossego por Bernardo Soares.
“A literatura, que é a arte casada com o pensamento, e a realização sem a mácula da realidade, parece-me ser o fim para que deveria tender todo o esforço humano, se fosse verdadeiramente humano, e não uma superfluidade do animal. Creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror. Os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores de uma permanência que a vida celular não permite. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Os críticos da casa pequena soem apontar que tal poema, longamente ritmado, não quer, afinal, dizer senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil, e o dia bom, ele mesmo, passa. Temos, pois, que conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa, e assim constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. Tudo é o que somos, e tudo será, para os que nos seguirem na diversidade do tempo, conforme nós intensamente o houvermos imaginado, isto é, o houvermos, com a imaginação metida no corpo, verdadeiramente sido. Não creio que a história seja mais, em seu grande panorama desbotado, que um decurso de interpretações, um consenso confuso de testemunhos distraídos. O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo. Tenho neste momento tantos pensamentos fundamentais, tantas coisas verdadeiramente metafísicas que dizer, que me canso de repente, e decido não escrever mais, não pensar mais, mas deixar que a febre de dizer me dê sono, e eu faça festas com os olhos fechados, como a um gato, a tudo quanto poderia ter dito.”
Existe um artigo excepcional da Cecília Galvão, investigadora do departamento de educação na universidade de Lisboa intitulado “A Ciência na Literatura e a Literatura na Ciência”, em que a mesma tenta, exatamente, estabelecer não só pontos comuns entre ambos os conceitos, mas, e talvez mais importante para aquilo a que aqui me proponho, colmatar esta diferença de linguagens que muitas vezes tornam o diálogo entre a Ciência e a Literatura quase antagónico. Tal acontece por várias razões, algumas já as elenquei em ensaios anteriores ou em conversas com amigos, sendo a principal a forma como o modelo de ensino está delineado: todos nós, ou quase todos aqueles que estão aqui hoje presentes, em algum dado momento na sua vida tiveram de fazer uma escolha. Foi-vos incumbida a escolha. A chamada “tudo ou nada”. Uma escolha proposta a um jovem que não pode nem conduzir, nem votar, nem beber, nem fumar. Talvez a escolha mais importante da vida de qualquer um. À passagem do 9.º ano para o décimo, foi-vos dado a escolher 1 de 4 de ensino secundário. A grande maior parte de vós escolheu as ciências em detrimento das humanidades e romperam, quase de forma imposta, com a relação entre a literatura e o mundo para se dedicarem apenas ao testemunho concreto e exato que a ciência nos apresenta. Esta é a única explicação que encontro para a total inabilidade dos cursos superiores científicos não se dignificarem a prestar pelo menos uma cadeira de literatura ao longo dos anos do curso.
António Damásio, indiscutivelmente um dos mais renomeados neurocientistas portugueses defendeu, em 2006, na Conferência Mundial de Educação Artística promovida pela UNESCO, que "um currículo escolar que integra as artes e as humanidades é imprescindível à formação de bons cidadãos… A ciência e a matemática são muito importantes, mas a arte e as humanidades são imprescindíveis à imaginação e ao pensamento intuitivo que estão por trás do que é novo. As capacidades cognitivas não bastam.”
O psicólogo Ken Robinson defendeu, na mesma Conferência, igualmente a complementaridade entre a ciência e a arte, dizendo que “os grandes cientistas são incrivelmente criativos e intuitivos. "O processo científico valida, demonstra. É a imaginação que cria”.
Ambos estes testemunhos remontam-me para o filme “Dead Poet Society”, escrito por Tom Schulman e realizado pelo Peter Weir. A personagem do professor Jon Keating, eternizada pelo extraordinário Robin Williams, fora escrita, conta Schulman, inspirada num professor que tivera no colégio Montgomery Bell Academy. A certa altura no filme, Jon Keating diz aos alunos
“Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana, e a raça humana está cheia de paixão. Medicina, Direito, Negócios, Engenharia... são ambições nobres e necessárias para manter a vida. Mas poesia, beleza, romance, amor... é para isso que ficamos vivos. Para citar Whitman:
"OH eu, oh vida
das perguntas sempre iguais
Dos intermináveis comboios dos descrentes
das cidades a abarrotar de idiotas.
O que há de bom no meio disto, oh eu, oh vida?
Resposta:
Estás aqui
A vida existe e a identidade,
A poderosa peça continua
e podes contribuir com um verso.”
São inúmeros os testemunhos de como a complementaridade entre a imaginação artística e o saber científico promovem pontes de entendimento com o resto as pessoas que mais precisam de ambos, em detrimento do modelo impositivo.
Carl Sagan, um dos mais conceituados cientistas astrofísicos, reconhecido mundialmente pela sua capacidade admirável de ilustrar as suas ideias com a força cativante da palavra, escreveu assim, no seu livro – Um mundo Infestado de Demónios: “Havia a memorização maquinal da tabela periódica dos elementos, alavancas e planos inclinados, a fotossíntese das plantas verdes e a diferença entre a antracite e a hulha (...) Nas aulas laboratoriais do liceu havia uma resposta que devíamos dar e se não o conseguíamos tínhamos nota negativa. Não havia estímulo para nos debruçarmos sobre os nossos interesses, palpites ou erros conceptuais. No final dos manuais havia material que se podia considerar interessante, mas o ano acabava sempre antes de lá chegarmos. Encontravam-se livros maravilhosos sobre astronomia nas bibliotecas, por exemplo, mas não na sala de aula. As contas de dividir eram ensinadas como um conjunto de regras de um livro de cozinha (...) No liceu a extracção de raízes quadradas era-nos apresentada com veneração, como se fosse um método sagrado. Tudo o que tínhamos a fazer era recordar o que nos tinham mandado fazer. Dá a resposta certa e não te rales se não percebes o que estás a fazer.”
Existe ainda uma outra falha, facilmente desconstruída pela literatura e que muitas vezes escapa, porque tem de escapar até certo ponto, ao domínio da ciência e que é o da emoção perante a humanidade do outro. Uma das maiores dificuldades dos textos científicos, e eu que estudo Linguística, que mais não é do que a cientificidade da palavra, também o sei, é a humanização do mesmo. Esta problemática ganha especial evidência quando nos apercebemos que na minha área a matéria-prima é a palavra, mas na Medicina, por exemplo, a matéria-prima é muitas vezes, se não sempre, a pessoa. A Humanidade do outro. Dedilham-se sentimentos como se fossem placas de petri, como se a essência humana pudesse ser medida por um conta-gotas, como se a existência estivesse vinculada aos monitores de sinais vitais.
António Gedeão, professor, físico, investigador e, talvez mais importante, poeta, é um bom exemplo de como mestrear ambas as linguagens: a científica e a literária.
Um dos seus mais bonitos poemas e um dos mais bonitos poemas alguma vez escritos em português, que consegue encapsular, ao mesmo tempo, uma intrincada teoria social inicialmente fomentada por Martin Luther King, apelidada de colorblindness, enquanto brinca com a Física e com a Poesia, chama-se Lágrima de Preta.
Encontrei uma preta
que estava a chorar,
pedi-lhe uma lágrima
para a analisar
Recolhi a lágrima
com todo o cuidado
num tubo de ensaio
bem esterilizado.
Olhei-a de um lado,
do outro e de frente:
tinha um ar de gota
muito transparente.
Mandei vir os ácidos,
as bases e os sais,
as drogas usadas
em casos que tais.
Ensaiei a frio,
experimentei ao lume,
de todas as vezes
deu-me o que é costume:
Nem sinais de negro,
nem vestígios de ódio.
Água (quase tudo)
e cloreto de sódio
No ensaio sobre a cegueira, não sendo este um livro necessariamente sobre ciência per si, Saramago parte de uma premissa concreta: o mundo havia sido acometido por uma doença fictícia: uma cegueira branca.
A certa altura, já para o final do livro, um dos cegos pergunta a um médico: “por que foi que cegámos, Não sei, talvez um dia se chegue a conhecer a razão, Queres que te diga o que penso, Diz, Penso que não cegámos, penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, vendo, não veem.”
O ensaio sobre a cegueira pode aqui servir como uma metáfora. Num mundo em que, para todos os efeitos, pessoas normais, afastadas do jargão científico, têm dificuldade em ver humanidade nos escritos científicos, acabam também por desenvolver uma profunda dificuldade em ver a humanidade nas próprias pessoas, nos profissionais, que dão a cara por esses mesmos escritos.
Da mesma forma que no ensaio sobre a cegueira, a mulher que escapa da cegueira branca é tida como uma profeta, encarregue de levar a humanidade a bom porto e a um futuro mais risonho, podemos estabelecer também a correlação com o profissional de saúde que, embebido da humanidade que a literatura lhe dá, consegue edificar uma ponte de entendimento muito mais próximo da vida do outro, do doente, oferecendo-lhe o conforto de alma que só a literatura consegue.
Uma das pessoas, atrevo-me a dizer, mais exímias na constatação da humanidade do outro em justaposição com o maquinismo da sua profissão é o António Lobo Antunes, médico, psiquiatra, e o prémio Nobel da Literatura Portuguesa a quem nunca será dado, António Lobo Antunes é talvez o único cientista de dois domínios: cientista do Homem e cientista da Palavra.
O texto que vos lerei a seguir foi uma pequena crónica que ele escreveu para a Revista Visão.
António Lobo Antunes – Juro que não vou esquecer.
"Nunca vou esquecer o olhar da rapariga que espera o tratamento de radioterapia. Sentada numa das cadeiras de plástico, o homem que a acompanha (o pai?) coloca-lhe uma almofada na nuca para ela encostar a cabeça à parede e assim fica, magra, imóvel, calada, com os olhos a gritarem o que ninguém ouve. O homem tira o lenço do bolso, passa-lho devagarinho na cara e os seus olhos gritam também: na sala onde tanta gente aguarda lá fora, algumas vindas de longe, de terras do Alentejo quase na fronteira, desembarcam pessoas de maca, um senhor idoso de fato completo, botão do colarinho abotoado, sem gravata, a mesma nódoa sempre na manga (a nódoa grita) caminhando devagarinho para o balcão numa dignidade de príncipe.
É pobre, vê-se que é pobre, não existe um único osso que não lhe fure a pele, entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já, tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam, a mão esquelética consegue puxar da algibeira o cartãozinho onde lhe marcam as sessões.
Mulheres com lenços a cobrirem a ausência de cabelo, outras de perucas patéticas que não ligam com as feições nem aderem ao crânio, lhes flutuam em torno. E a imensa solidão de todos eles. À entrada do corredor, no espaço entre duas portas, uma africana de óculos chora sem ruído, metendo os polegares por baixo das lentes a secar as pálpebras. Chora sem ruído e sem um músculo que estremeça sequer, apagando-se a si mesma com o verniz estalado das unhas. Um sujeito de pé com um saco de plástico. Um outro a arrastar uma das pernas. A chuva incessante contra as janelas enormes. Plantas em vasos. Revistas que as pessoas não leem, e eu, cheio de vergonha de ser eu, a pensar faltam-me duas sessões, eles morrem e eu fico vivo, graças a Deus sofri de uma coisa sem importância, estou aqui para um tratamento preventivo, dizem-me que me curei, fico vivo, daqui a pouco tudo isto não passou de um pesadelo, uma irrealidade, fico vivo, dentro de mim estas pessoas a doerem-me tanto, fico vivo como, a rapariga de cabeça encostada à parede não vê ninguém, os outros (nós) somos transparentes para ela, toda no interior do seu tormento, o homem poisa-lhe os dedos e ela não sente os dedos, fico vivo de que maneira, como, mudei tanto nestes últimos meses, os meus companheiros dão-me vontade de ajoelhar, não os mereço da mesma forma que eles não merecem isto, que estúpido perguntar - Porquê ? que estúpido indignar-me, zango-me com Deus, comigo, com a vida que tive, como pude ser tão desatento, tão arrogante, tão parvo, como pude queixar-me, gostava de ter os joelhos enormes de modo que coubessem no meu colo em vez das cadeiras de plástico (não são de plástico, outra coisa qualquer, mais confortável, que não tenho tempo agora de pensar no que é) isto que escrevo sai de mim como um vómito, tão depressa que a esferográfica não acompanha, perco imensas palavras, frases inteiras, emoções que me fogem, isto que escrevo não chega aos calcanhares do senhor idoso de fato completo (aos quadradinhos, já gasto, já bom para deitar fora) botão de colarinho abotoado, sem gravata e no entanto a gravata está lá, a gravata está lá, o que interessa a nódoa da manga (a nódoa grita) o que interessa que caminhe devagar para o balcão mal podendo consigo, doem-me os dedos da força que faço para escrever, não existe um único osso que não lhe fure a pele, entende-se o sofrimento nos traços impassíveis e não grita com os olhos porque não tem olhos já, tem no lugar deles a mesma pele esverdeada que os ossos furam e me observa por instantes, diga - António senhor, por favor diga - António chamo-me António, não tem importância nenhuma mas chamo-me António e não posso fazer nada por si, não posso fazer nada por ninguém, chamo-me António e não lhe chego aos calcanhares, sou mais pobre que você, falta-me a sua força e coragem, pegue-me antes você ao colo e garanta-me que não morre, não pode morrer, no caso de você morrer eu No caso de você e da rapariga da almofada morrerem vou ter vergonha de estar vivo.”
Relembro-vos o que escreveu Bernardo Soares: “creio que dizer uma coisa é conservar-lhe a virtude e tirar-lhe o terror.”
Espero que não encarem isto como uma obrigação: de que têm de ser todos grandes poetas ou romancistas, não, espero apenas que isto vos tenha atraído o olhar para a importância do fio narrativo na relação com e para o doente, porque “O romancista é todos nós, e narramos quando vemos, porque ver é complexo como tudo.”
Quando Miguel Torga finaliza a sua licenciatura em Medicina, em 1941, ele escreve uma pequena nota num dos seus diários a dizer:
"Médico. Conforme a tradição, mal o bedel disse que sim, que os lentes consentiam que eu receitasse clisteres à humanidade, conhecidos e desconhecidos rasgaram-me da cabeça aos pés. Só deixaram a capa. E aí vim eu pelas ruas fora o mais chegado possível à minha própria realidade: um homem nu, envolto em três metros de negrura, varado de lado a lado por um terror fundo que não diz donde vem nem para onde vai."