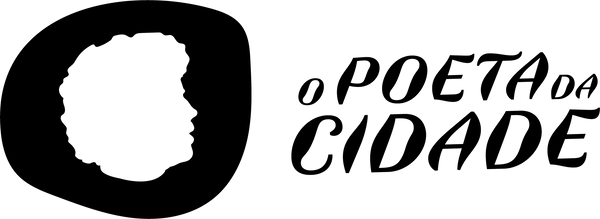Serei Preto o Suficiente?
Share
Debati-me durante muito tempo sobre esta questão. Quererei eu abordar este tema? Fará sentido? Ouvir-me-ão de ouvidos bem abertos, mesmo que não concordem?
Para alguns será uma tomada de posição. Para outros uma mera opinião política. Para outros uma traição e sei que para uma pequena franja será prova da minha submissão aos ideais da branquitude e “hegemonia europeia” e, no fundo, racismo puro e duro, mas talvez possamos começar por aqui mesmo: racismo.
Cresci numa família mista. O lado do meu pai fugiu de Angola numa tentativa de escapar à guerra, e o lado da minha mãe estava já bem instalado em Portugal desde há muitas gerações. Sempre vivi rodeado de pretos e brancos. A minha mãe, educadora de infância num bairro social, levou-me sempre com ela. Cresci num ATL nesse mesmo bairro também. O meu pai, polícia, ao contrário do que disse a iluminada Clara Ferreira Alves que nunca havia visto um polícia preto, sempre me ensinou a respeitar o próximo e que por muito mais poder que se tenha, somos todos iguais aos olhos da lei e, mais importante ainda, aos olhos da lei da vida. Sempre andei em escolas multiculturais, não por escolha, mas porque não havia outras. Pretos e brancos. A música, os amigos, os lugares, as discotecas. Pretos e brancos. Almoços de família recheados de cachupa e pirão, bacalhau cozido e pasteis de massa tenra. Pretos e brancos. Casamentos repletos de música e danças para as quais saí, claramente, ao lado da minha mãe pela falta de jeito. Pretos e brancos. Um desejo inato de voltar ao continente-mãe em que nunca estive. Pretos. Um orgulho desmedido de ter nascido num país tão livre e diversificado como Portugal. Brancos. Pais. Pretos e brancos. Avós. Pretos e brancos. Tios. Pretos e brancos. Primos. Pretos e brancos. Eu. Preto…e branco?
O racismo foi-me ensinado de novo. O seu conceito base. Aquele que norteia o nosso entendimento geral enquanto sociedade. Alguém racista não é mais do que alguém que acredita estar num plano de poder diferente pela sua cor da pele. Racismo é a acção de se achar merecedor de algo, melhor que alguém, pela sua simples cor da pele. Preta ou branca.
Em 2012 fui espancado, assaltado e humilhado por um grupo de 6 pretos. Fui visitar a minha, na altura namorada, ao bairro. Ao passear, esse grupo, conhecidos dela, abordou-me. Estávamos numa praceta rodeada de prédios, cafés e mercearias, com pessoas à janela e sentadas em bancos. Eram 15h. O que se seguiu foi, indubitavelmente, algo que nunca pensei experienciar, pelo menos não naquela magnitude - um crime de ódio racial. Racismo.
Como é que eu sei que aquilo que me aconteceu em 2012 foi um ato racista e não apenas um grupo que se quis armar em engraçado e espancar um miúdo mulato de 14 anos? Pelas palavras que repetiram vezes e vezes sem conta enquanto o faziam:
- “olha o cabrito”, entre chapadas e pontapés, “olha o cabrito, olha o cabrito.”;
“Cabrito”, neste contexto, é um termo pejorativo usado para cunhar alguém que não é preto. Usado para categorizar uma pessoa mestiça, mulata. Podem tentar desenhar o argumento de que pessoas do mesmo contexto social, histórico, cultural e étnico não podem ser racialmente tendenciosas para com outras iguais, mas o passado conta-nos uma história diferente.
Sabemos que para os portugueses, antes da II Guerra Mundial, os pretos era caracterizados das seguinte forma: ou pretos indígenas, chamados selvagens, ou pretos assimilados, sendo que a diferença entre estes dois termos se deve a este último apresentar, como nos disse Luis Cunha, uma aceitação dos valores da civilização e que se expressam na submissão e lealdade ao branco: “A distância entre o homem branco e o homem negro deixa de ser intransponível, passando este a estar dividido entre a integração na lógica do dominado e a conservação das suas práticas incivilizadas e perigosas. Todavia, a integração apenas é possível pela submissão, isto é, pelo reconhecimento da inferioridade, ou (…) pela apreensão dos valores fundamentais que o catolicismo podia fornecer.”
Seguindo esta linha de pensamento, em Angola, no seguimento dos censos de 1940 e 1950, a percentagem de negros assimilados era de apenas 0,7%, havendo uma percentagem muito superior para os mestiços - cerca de 82,9%. E este aspeto é derradeiro para entendermos o lugar do mestiço e a sua relação com o preto ao longo da história, mais especificamente, em Angola - e, neste caso específico o porquê do mestiço não conseguir tomar um lugar em nenhuma das frentes da batalha: para os pretos, na época colonial, e atrevo-me a dizer hoje ainda, os mestiços foram aqueles que se vergaram perante a idealização colonial, que se deixaram corromper pelos ideais da branquitude europeia e que renunciaram o seu estado “selvagem, indígena” o que levou a que se erguesse e propagasse, como aconteceu em muitos países Africanos, uma “hierarquização da cor da pele (preto/retinto/negro; preto fulo/mulato/cabrito) com um grande impacto na estruturação social da sociedade” com repercussões no imaginário da negritude, branquitude e mestiçagem e nas suas relações até aos dias de hoje.
Fui chamado de cabrito porque não era preto o suficiente. O assalto à minha integridade física foi legitimado, juntamente com o álcool que lhes corria nas veias, pela minha cor de pele. Naquele momento acharam-se superiores porque eles eram pretos e eu não.
Mergulhemos agora mais fundo na teoria.
Existe uma certa franja da sociedade, nomeadamente aqueles que se intitulam de ativistas “anti-racistas”, que acreditam não haver tal coisa como um crime de ódio racial perpetrado por pretos. Que acreditam que o mal do africano é o homem branco. Que tudo aquilo que acontece de mal ao preto pode ser desculpado pelo passado. Que acreditam que se mantém sistemas ainda nos dias de hoje cujo único objetivo é perpetuar os ideais do Jim Crow, do Apartheid e da supremacia branca. Eu já fiz parte dessa franja. Esta ideia, bem como muitas outras que infectaram a intelectualidade académica negra nos últimos 20 anos, surgiu de um movimento muito anterior e liga-se, como é óbvio, intrinsecamente a muitas outras lutas. A Kimberlé Crenshaw quando cunhou o termo interseccionalidade deu aso a uma cadeia de ações que viriam a culminar naquilo que hoje já se cunhou como “neo-racism”, tema para um próximo ensaio. A interseccionalidade diz, muito sucintamente, que um indivíduo tem de ser visto, julgado e caracterizado não pela soberania suprema da sua individualidade, mas por tudo aquilo que o pode caracterizar como oprimido. Falarei sobre isto mais à frente, mas queria apenas mencioná-lo para estender o tapete a duas pessoas que foram, podemos dizer, os grandes impulsionadores daquilo que são os termos “anti-racista” e “fragilidade branca” ou “supremacia branca” e que surgiram do ambiente socio-cultural que a interseccionalidade abriu: Ibram Kendi, um académico afro-americano, escritor do best-seller “How to be Anti-Racist” e a Robin DiAngelo, uma antropóloga, escritora do bestseller “White Fragility”.
Falemos um pouco sobre ambos estes autores e as suas tão educativas e fundamentais obras.
O Dr. Ibram Kendi no livro “Como Ser um Anti-Racista” propõe uma missiva simples e derradeira - não basta “não sermos racistas, temos de ser anti-racistas”. Para ele, o estado natural do ser-humano - e podemos até argumentar “normal” - que é o ser-se não racista - não é suficiente. O “não se ser racista” implica neutralidade e nulidade de acção, dois conceitos que, para ele, são prova do racismo sistémico embebido no imaginário do Homem branco. Não ver raça implica não ver racismo. Incorre ainda no erro de criança de ensino primário, estranho para um dos académicos mais conhecidos e bem-pagos da atualidade, quando delineia as definições dos conceitos de “racista” e “anti-racista”. Para ele, alguém racista é “alguém que suporta políticas racistas através das suas acções ou inações ou expressa uma ideia racista” e anti-racista é “alguém que suporta políticas anti-racistas através das suas acções ou expressa uma ideia anti-racista.”. A utilização dos termos a definir dentro da própria definição, naquilo a que chamamos lógica circular ou petição de princípio, é um dos erros mais básicos e fatais que podemos cometer quando falamos de algo tão importante como a definição de um ato hediondo que é o ser-se racista. No fundo, esta definição diz que ser-se racista é tudo e um par de botas. És racista se agires ou se não agires perante o teu racismo. E o que é racismo? São políticas que promovem o racismo. Não existe definição, logo racismo pode ser – e, neste momento, é – tudo aquilo que dissermos que é.
A Dr. Robin DiAngelo explora, no seu livro “Fragilidade Branca” o conceito de que a sociedade americana branca é, devido ao seu passado histórico, fundamentalmente racista e que deve, por isso, expiar-se, procurando quebrar a cumplicidade e o investimento no racismo. No primeiro capítulo a Robin não se demora em dizer que os brancos não se veem em termos raciais e que, por conseguinte, têm de ser ensinados por especialistas da sua branquitude. Mas logo no quarto capítulo, estes mesmo brancos que não veem raça são peculiarmente tribalistas ao ponto de afirmar que o pecado que é a “solidariedade branca requer tanto um silêncio sobre tudo aquilo que exponha as vantagens da população branca como um acordo implícito para se manterem racialmente unidos em prol da supremacia branca.”. O que estão estas pessoas, que não sabem nem veem a sua branquitude, tão fervorosamente a defender?
É um livro que trata o preto como uma criança a quem não pode ser negada nada, um livro que infantiliza a negritude e em que o valor moral do branco está no seu sofrimento. No fundo, estabelecendo uma correlação com a religião, a fragilidade branca só pode ser expiada e erradicada do branco após este entender que tem de sofrer, que tem de ser pregado à cruz e ser expiado pelos seus pecados. E em que consistem estes pecados? Bem, alguns deles são proferir as seguintes frases a um preto ou POC:
Conheço pessoas de cor.
Marchei nos anos 60.
Estás a julgar-me.
Não me conheces.
Estás a generalizar.
Eu discordo.
A opressão real é a opressão de classes.
Só disse uma coisinha inocente.
Algumas pessoas encontram ofensas onde elas não existem.
Estás a magoar os meus sentimentos.
Todas estas são um ex-libris do racismo implícito dentro da branquitude.
Não é nova a noção de que todas as pessoas têm uma certa predisposição racista, sejam elas pretas ou brancas, aliás, é até profundamente razoável porque foi já demonstrado pela ciência a sua veracidade – o problema está na acção para contrabalançar estes preconceitos implícitos.
Não havendo uma definição fechada do que é o racismo, como nos mostrou o Kendi, e com narrativas que nos dizem que o racismo é tudo aquilo que os pretos dizem ser, sendo os brancos a raíz de todos os males e não podendo proferir qualquer palavra de discórdia, como nos incute a Robin, estamos na terra de ninguém.
Racismo, nos dias que correm, é um daqueles conceitos cujo significado queremos fechado, precisamos fechado, porque é do nosso maior interesse salvaguardar o seu uso para as situações específicas em que é necessário indicar alguém que acha mesmo que a cor da pele lhe confere algo que o coloca num lugar de superioridade perante as outras cores de pele. Contudo, é um dos conceitos cuja definição abrimos cada vez mais. O escopo daquilo que é o racismo, neste momento, está tão vago, que ao invés de nos sobressaltar, o primeiro instinto ao ouvir alguém ser chamado de racista é o de ignorar. Tornou-se um insulto ao invés de ser indicativo.
Normalmente, o movimento “Anti-Racista” junta-se a outros, como o movimento LGBTQIA+, o movimento anti-capitalista, etc.… e, por vezes, é engraçado estarmos atentos a algumas linhas de discurso que acabam por se tornar contraditórias em todos estes movimentos. Os apologistas do movimento Black Lives Matter e “Anti-Racistas” são os mesmo que empurram a agenda da diversidade, equidade e inclusão. Que até, muitas vezes, integram grupos de trabalho parlamentar, como é o caso do Mamadou Ba, a partir dos quais são delineadas políticas a ser implementadas em empresas, instituições e na vida cidadã. Tudo bem até aqui.
O problema está exatamente no que acontece no seguimento de toda esta lógica de acção.
Vimos nesta última semana de julho emergir uma discussão fervorosa sobre lugares de fala, apropriação cultural e racismo sistémico, outra vez. Ouvi e li em diversos artigos coisas tão disparatadas, para não dizer pior, como “pessoas brancas que se relacionam afetivamente com pessoas negras não têm passaporte para serem anti-racistas”, da instagramer quotidianodeumanegra, ou “Quando me sinto preto, sinto-me posto de parte- Para ser visto, tenho de ser incrivelmente melhor do que a comunidade dos caucasianos ou dos de pele mais clara que a minha” num artigo do Fábio Moniz na Shifter, ou ainda, na revista Gerador, um artigo escrito pela Paula Cardoso - criadora da Afrolink - em que diz, sobre esta polémica da Rita Pereira e da música da Irma Filha da Tuga o seguinte “O facto de uma pessoa branca – por mais bem-intencionada que esteja – entender que deve falar por nós é bem revelador da herança de privilégios que transporta.”.
Todas estas afirmações e ideias, para não falar de uma das que para mim é um ato autêntico de discriminação racial de uma instituição governamental e que se encontra nos formulários dos apoios da DGArtes: uma pequena questão como uma cotação de 10% da nota final e que pergunta “Quantas pessoas tem na equipa que façam parte de uma minoria étnica, nomeadamente afrodescendentes?”, ou, trocando por miúdos, quantos pretos fazem parte da sua associação ou empresa - todas estas afirmações e ideias têm como motivação, dizem, dar visibilidade às minorias étnicas - os chamados POC (people of color, nos Estados Unidos), e não só: todas estas ideias caem recorrentemente no argumento de que ser-se preto é ser-se uma vítima. Existe um discurso de desculpabilização e de vitimização à volta do movimento anti-racista e da negritude que é impossível ignorar. Mas encaremos estas afirmações separadamente.
Comecemos pela polémica da Irma, da Deslandes e da Rita Pereira, das tranças, da apropriação cultural e da afirmação da Paula Cardoso de que o branco (ou, neste caso, o não preto o suficiente, uma vez que a Irma é, como eu, mestiça) falar por nós” é revelador “da herança dos privilégios que transporta”. Esta ideia de que uma pessoa tem apenas um lugar de falar tendo em conta a sua posição na hierarquia de poder é reminiscência da herança que movimentos como a interseccionalidade nos deixaram. Peço paciência para as enumerações que se seguem: no seguimento deste movimento que caracteriza as pessoas tendo em conta um conjunto de traços opressores/oprimidos podemos ver que o Homem branco, cis, hetero-sexual, neuro-típico, magro com ensino pós-secundário e rico está no topo da hierarquia de poder e, por exato oposto, a mulher preta, trans, neurodivergente, gorda, com o ensino primário e pobre ocupa a base da hierarquia. São muitas as críticas que podemos tecer à interseccionalidade - como é um movimento que busca razões para a vitimização e que leva a uma óbvia procura por mais e mais categorias em que nos possamos inserir para podermos abanar a bandeira dos oprimidos; um movimento que descarta por completo a individualidade da própria pessoa e a condensa a um conjunto de traços, muito deles inatos e, diga-se em pura das verdades, completamente irrelevantes ao elevador social; um movimento que, ao descartar a soberania individual, trata a pessoa como parte de um grupo homogéneo, em que se dizes fazer parte dum certo traço oprimido tens de agir/pensar/actuar de X forma.
Já partilhei desta visão faz meia dúzia de anos - juntamente com o “existem certas palavras que o branco não pode dizer”, escrevi um poema e tudo sobre esse mesmo tema chamado Raízes, uma peça de spoken word brilhante, um dos meus melhores trabalhos que podem encontrar ainda no Youtube. Mas mudei de opinião.
Considerava-me, até há 2 anos, um fervoroso ativista anti-racista. Partilhava de todos estes ideais, olhava para mim e para o preto como uma vítima a quem o mundo fizera um desserviço e culpava o homem branco, tal e qual mandam os manuais. Chamei nomes a grandes amigos quando estes diziam que Portugal, ainda que com pontuais eventos de racismo, não era um país racista. Foi somente no mês da morte do George Floyd e depois da marcha Black Lives Matter, em que participei, que decidi rever tudo aquilo em que acreditava. E fi-lo porque os meses que se seguiram mostraram a face do movimento que eu escolhera deliberadamente ignorar.
O argumento de que os brancos não podem escrever sobre a experiências de pretos, de que isso é só prova do racismo estrutural e da herança histórica de privilégios é para mim a melhor prova do absurdismo moderno em que todos estes movimentos caem.
Castro Alves, um dos melhores poetas brasileiros do séc. XIX, e - não que devesse interessar, mas porque sei que para vós é o mais importante - efetivamente um homem branco, é autor daquele que é talvez o melhor poema sobre aquilo que foi a experiência maquiavélica, infernal, dantesca do tráfico negreiro. Não existe um poeta, vivo ou morto, branco ou preto, que tenha sido capaz de escrever tão bem ou melhor sobre algo que nunca viveu:
“Era um sonho dantesco... o tombadilho
Que das luzernas avermelha o brilho.
Em sangue a se banhar.
Tinir de ferros... estalar de açoite...
Legiões de homens negros como a noite,
Horrendos a dançar...
Negras mulheres, suspendendo às tetas
Magras crianças, cujas bocas pretas
Rega o sangue das mães:
Outras moças, mas nuas e espantadas,
No turbilhão de espectros arrastadas,
Em ânsia e mágoa vãs!
E ri-se a orquestra irônica, estridente...
E da ronda fantástica a serpente
Faz doudas espirais ... Se o velho arqueja, se no chão resvala,
Ouvem-se gritos... o chicote estala.
E voam mais e mais...”
Em 1858, 10 anos antes de Castro Alves, Heinrich Heine, poeta alemão, homem branco também, escreveu um poema com o mesmo nome “Das SklavenSchiff”, um poema mais satirizante e irónico que o Navio Negreiro, mas que expõe e denuncia a atrocidade que foi o comércio triangular de igual forma:
“The supercargo Mynheer van KoekIs
sitting and calculating;
There in his cabin he reckons the worth
And profits to come from his freighting.
"The rubber is good, the pepper is good,
At three hundred barrels we'll set her,
I've gold dust here, and ivory -
The black commodity's better.
Six hundred negroes, I closed the deal
Dirt cheap on the Senegal landing.
The flesh is tough, the sinews are taut,
Like the best cast iron, it's outstanding.
I swapped for them brandy, trinkets and beads,
It's such a bargain I'm driving;
I'll come out ahead eight hundred percent,
With only the half surviving.”
Nos anos 70, quando chegou a África a música country vinda dos Estados Unidos, esta tornou-se instantaneamente popular. Muitos países da Anglosfera, colónias ou ex-colónias, viram os seus cantores tentarem emular a sua sonoridade, como é caso do Emma Ogosi; e, na África Ocidental, um dos álbuns mais importantes da luta anti-apartheid foi uma tentativa dos artistas Jess Sah Bi e Peter One fazerem a sua variação daquilo que era a música country americana. Hoje é possível experienciar festas e casamentos temáticos “country” nas zonas mais rurais do Kenia, Tanzania, Zâmbia e Zimbabué, por exemplo.
Mas por que razão? Existem algumas: o banjo, instrumento fulcral no imaginário “hillbilly” da América do Sul é na verdade uma herança dos alaúdes feitos por cabaças da África Ocidental, que foram trazidos para a América por escravos e que se tornaram centrais na música esclavagista do sul, logo a sonoridade, ainda que subconsciente, não é de todo estrangeira a África; e, nestas zonas rurais, povoadas maioritariamente por agricultores e rancheiros, músicas que falem sobre vacas e tratores e a vida do campo são muito mais relacionáveis com a sua vivência do que necessariamente o hip-hop ou o pop. Está em curso o efeito da globalização.
Muito bem, passemos agora a ideia de que o preto se sente inferior pelo simples facto de ser preto e de “que para ser visto tem de ser melhor que os colegas caucasianos”. Este argumento diz, de forma muito sucinta, de que a cor da pele de alguém está inerente e intrinsecamente conectada à sua capacidade cognitiva. Esta é a única razão lógica para se apelar ao posicionamento de pessoas em lugares de poder pela sua cor de pele ao invés de trabalho e mérito. O sentir-me intitulado a um lugar porque a minha cor da pele é diferente é, muito latamente, a definição de racismo. E esta ideia tem vários problemas: a primeira é a de que parece dizer que todos os pretos, por serem pretos, pensam da mesma forma. Logo, queremos comentadores, jornalistas, juízes, policias, ceo’s e diretores pretos porque eles vão “representar” a comunidade africana em Portugal. Quase como se fossem todos iguais. Uma massa encefálica homogénea de negritude. Como se não houvesse qualquer soberania individual para além da sua cor da pele. Quase como se aquilo que realmente interessasse fosse o ativismo meramente performativo de colocar pretos em lugares de visibilidade pela mera performance de os ter lá, completamente alienados à individualidade do pensamento crítico que, uma vez mais e volto a repetir, não está relacionada com a quantidade de melanina que alguém possui.
Está na altura de nos perguntarmos quem preferimos que nos represente: alguém com quem partilhamos similaridades físicas ou alguém em quem nos revejamos nas suas ideias, opiniões e pontos de vista? É a cor da pele mais importante do que uma boa ideia, mesmo que essa boa ideia venha de alguém que não se assemelhe em nada comigo? o outro problema, ainda mais gritante, é o deste argumento ter legitimado a exata linha de pensamento que levou ao mercado negreiro e à escravatura.
Aquando da descoberta de África pelos portugueses - e aqui digo descoberta porque falo do ponto de vista dos europeus que desconheciam o continente e não porque o continente não existia até os europeus o descobrirem - o argumento que justificou e desculpabilizou o uso do negro como mercadoria, como objeto e como ferramenta foi exatamente esse: de que a cor da sua pele lhe outorgava diferenças cognitivas, que o facto de ter mais melanina o colocava num lugar abaixo do branco na hierarquia de poder. Acredito ser difícil encontrar um exemplo de racismo mais puro que este. Em 1863 os Estados Unidos foram dos primeiros países a, tecnicamente, extinguir a escravatura com a Proclamação de Emancipação, pela mão do então 16º presidente dos Estados Unidos da América Abraham Lincoln. Porém, em 1858, uns meros 5 anos antes, num debate com o Stephan Douglas em Ottawa, Illinois, Lincoln disse o seguinte: “Eu não tenho qualquer motivação de introduzir igualdade política e social entre a raça branca e negra. Existem diferenças físicas entre ambas, o que no meu julgamento as impedirá de algum dia viverem em pé de perfeita igualdade e, na medida em que existe uma necessidade de haver diferenças, eu estou a favor de que a raça a que pertenço tome a posição de poder.”
100 anos depois da Proclamação da Emancipação, no alto do Movimento dos Direitos Civis, Martin Luther King proferiu aquilo que é, até hoje, um dos discursos mais poderosos e estudados. “I have a dream” foi ouvido por 250 mil pessoas em Washington e deline ou aquilo que era o plano central - a verdadeira motivação da luta pela negritude: “I dream that one day my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.” Para o Martin Luther King, um mundo justo seria aquele em que a cor da pele fosse como a cor das unhas, a cor do cabelo ou um novo brinco - irrelevante, acessório. Só numa sociedade “colorblind” - daltónica, que não visse cor - podíamos nós desejar verdadeira igualdade. Porém, como já mostrei antes, este argumento é recorrentemente ignorado e descredibilizado porque, nas palavras do Kendi, da Crenshaw ou da Robin, e no fundo de grande parte dos intelectuais e académicos pretos e brancos, é uma via aberta para o racismo. Não ver raça é prova de como fomos corrompidos pela “branquitude”. Estamos neste momento a passar por um movimento que surgiu nos anos 70/80 e cuja premissa era uma ideia meio esotérica e académica que tem muito que ver com relativismo e a negação de verdades objetivas, influenciada pelo pós-modernismo de Jacques Derrida e Michel Focault, mas que se foi transformando e modelando para aquilo que vemos hoje e que tem vindo a ganhar cada vez mais relevância - uma outra definição que nega por completo as verdades objetivas, nega a meritocracia por neutralidade racial e os standards para uma sociedade baseada no daltonismo ou “colorblind”. Um movimento que alega que não ver raça é em sim um ato racista. Um movimento que quer acabar com o racismo incutindo em todas as pessoas, dos mais jovens aos mais velhos, de que não existe característica mais importante do que a cor da pele com que nasce.
Será justo continuar a dizer que o branco não pode ter um lugar de fala? O que nos diz esse pensamento, tendo em conta que costuma vir sempre de pessoas que lutam pela diversidade, inclusão e equidade na sociedade? Pessoas que lutam por uma Lisboa Criola, por um mundo cada vez mais global e mestiço, onde haja uma troca sincera e genuína de culturas? Pessoas que abanam fervorosamente as bandeiras do africanismo pelo mundo? Que têm orgulho na tomada de posição que a arte negra tem ganho? Pessoas que lutam por espaços africanos nas cidades, onde possam ir comer, onde possam ir sair, ouvir música? Pessoas que se regozijam quando veem a Gulbenkian numa comunhão sem igual, a materialização das palavras do Dino de Santiago “Branco com preto” são “geração de ouro”? A todas essas pessoas pergunto-lhes: o que querem realmente? Porque claramente não é igualdade. Claramente não é diversidade. Claramente não é a mestiçagem de culturas ou uma globalização sem fronteiras, como escrevem nos vossos artigos e ensinam a população branca. “Brancos não podem usar tranças.”. “Branco não podem dançar Kizomba”. “Brancos não podem comer cachupa.”. “Brancos não podem cantar hip-hop nem Blues”. “Brancos não podem escrever sobre pretos”. “Pretos não podem votar.” “Pretos não podem sentar-se nos autocarros”. “Pretos não são gente.”. “Volta para a tua terra, preto” – tudo isto são duas faces da mesma moeda. A mim parece-me uma luta por um apartheid auto-infligido, em que dizem querer o mundo sem fronteiras, enquanto lutam vorazmente por criar as vossas própria. “Não foi descobrimentos, foi matança.”. Parece-me a mim que não são reparações que procuram, mas antes vingança, numa espiral de perpétua e interminável vitimização, têm medo de deixar o passado, porque sabem que o futuro é daltónico, e por isso teimam em reconstruí-lo, mas desta vez convosco no lugar de poder. Contudo esquecem-se de que as fronteiras, os muros, as proibições são para ambos os lados e a herança africana está embebida não só no código genético de todos e cada um de nós, portugueses do mundo, os mestiços de todos os povos, mas no código cultural também.
Ninguém nega as atrocidades da escravatura. O inferno Dantesco das chacinas. A rebelião moral do Homem em busca de novas terras. As mulheres violadas. Ninguém nega que o preto sofreu. Ninguém nega que o preto ainda sofre. Ninguém nega que não exista racismo. Não se trata de negar mas de entender que o caminho não é este. Não se trata de negar, mas de encarar o futuro e fazer entender que o caminho não está na cor da pele, na busca incessante por razões que nos diferenciem, mas naquilo que nos faz a todos humanos – irmãos do mesmo processo divino que é o nascimento.
Nesta guerra sou apátrida. Não tenho lados porque não me revejo no comportamento de ninguém. Não me revejo no comportamento do preto, de legitimar toda a sua revolta para com uma sociedade que sempre lhe deu tudo com base nos erros do passado e de se encarar sempre como uma vítima a quem se deve tudo e não me revejo neste revisionismo do branco, em que de repente tudo o que é preto é bom, quando existe um enviesamento para tudo aquilo que é “claramente” de descendência africana - uma compensação pelos erros do passado mas que chega em excesso, num tom paternalista e desonesto - quase como se prevalecesse o pensamento de que o preto, afinal, não é bom o suficiente para singrar sozinho sem a ajuda do homem branco. Quase como se estas reparações viessem provar exatamente o saudosismo que sentimos pelo colonialismo, como uma certa franja da sociedade tão avidamente proclama, mas não pela perspectiva de retornar às colónias, mas na perspectiva de que sem o branco, o preto, o selvagem, a vítima, o à parte, o analfabeto, o preto continuará sempre um zé-ninguém.
Esta compensação sobre tudo aquilo que é claramente de descendência africana – o que significa? O que é ser-se claramente de descendência africana? Que percentagem de preto tem alguém de ser? Já percebi, infelizmente, que não sou preto o suficiente para usufruir de tal compensação e mesmo que fosse quero pensar que não navegaria a onda. Há mais em mim do que a minha cor. Tenho respeito pelo aspeto primordial da minha essência enquanto ser-humano. Atrevo-me a dizer até que a minha cor é a característica mais desinteressante sobre a minha pessoa. Mas pensem nisso: quão preto é preto o suficiente para poder ser oprimido de um lado e colher os frutos das reparações ao mesmo tempo do outro? E aqueles que o fazem, olhem para dentro e respondam-me: vale a pena abdicar daquilo que vos faz únicos para passarem a ser apenas mais um cantor preto, uma poeta preta, um pintor preto ou uma jornalista preta? Abdicar da vossa individualidade para passarem a ser uma tonalidade de castanho num pantone? No fundo, o comércio negreiro continua, só se vendem partes diferentes de cada um agora.
Numa tentativa de reparar os danos feitos no passado, criamos invariavelmente o mesmo futuro, apenas com nomes diferentes - como que para sempre destinados a um mesmo fado.
Serei preto o suficiente? Não sei e anseio pelo dia em que não seja o único a não saber.